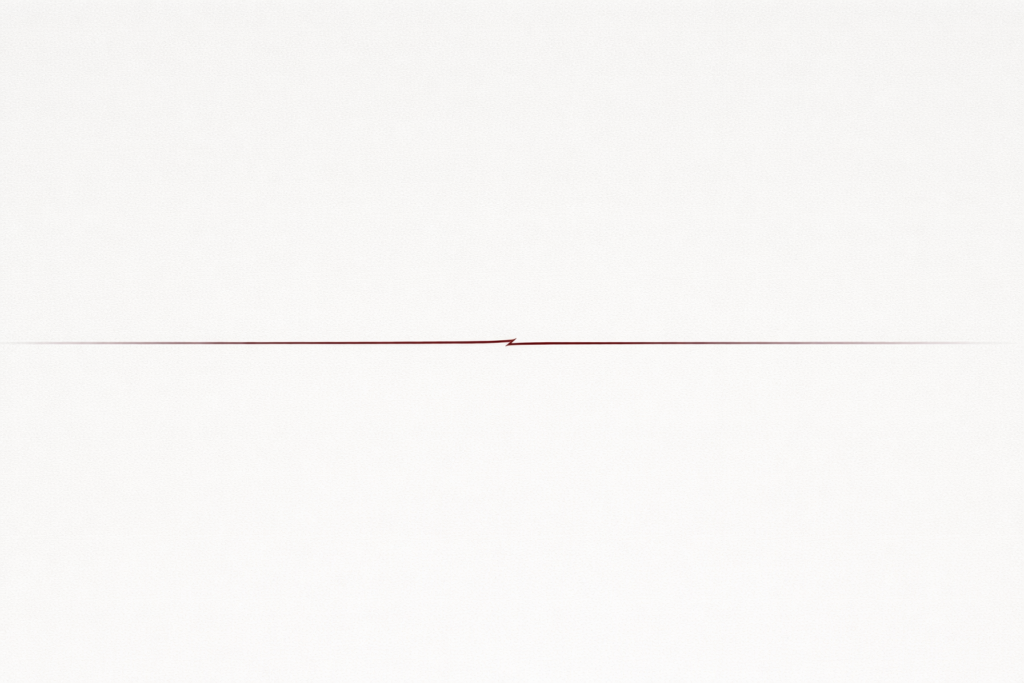O debate em torno de André Ventura e do CHEGA tem sido, em larga medida, um debate mal colocado. Discutem-se rótulos, invocam-se fantasmas históricos, reciclam-se analogias com os anos 30. Uns gritam “fascismo”; outros respondem com apelos à moderação e à contenção retórica. O resultado é um impasse estéril que pouco esclarece sobre o que verdadeiramente está em causa.
O mundo mudou. As formas do poder autoritário também. A pergunta relevante já não é se faz sentido chamar fascista a Ventura ou ao CHEGA. A pergunta é outra, mais incómoda e mais actual: que tipo de democracia propõe este partido?
A resposta, quando observada com algum rigor, aponta numa direcção clara: trata-se de um projecto iliberal.
O iliberalismo não rejeita a democracia eleitoral. Pelo contrário, apropria-se dela. Aceita o voto, aceita o parlamento, aceita a retórica da soberania popular. O que rejeita são os limites que tornam essa soberania compatível com a liberdade: a universalidade dos direitos, a separação de poderes, a autonomia das instituições, a ideia de que a lei protege também quem é impopular, minoritário ou incómodo.
Neste quadro, os direitos deixam de ser incondicionais e passam a ser merecidos. A cidadania deixa de ser um estatuto jurídico igual e transforma-se numa hierarquia moral. A justiça deixa de ser garantística e passa a ser exemplar. A política deixa de ser mediação e passa a ser punição.
Nada disto exige a suspensão formal da democracia. Pelo contrário: pode coexistir com eleições regulares, com parlamentos funcionais e com uma linguagem aparentemente democrática. É precisamente isso que torna o iliberalismo eficaz no século XXI — e mais difícil de identificar para quem continua à espera dos sinais clássicos do autoritarismo.
É por isso que leituras como a de José Manuel Fernandes, ao centrarem o debate no exagero retórico do antifascismo, acabam por falhar o essencial. O problema não é o excesso de alarme. O problema é a insuficiência do diagnóstico. Reduzir o fenómeno Ventura a uma questão de estilo — alarvidade, má educação, excitação populista — é transformar um projecto político numa excentricidade comportamental.
A normalização opera aqui de forma subtil mas eficaz. O CHEGA deixa de ser analisado pela sua visão de sociedade e passa a ser tratado como “mais uma direita incómoda”, barulhenta mas integrável. O risco deixa de ser estrutural e passa a ser meramente empírico: enquanto não houver colapso visível, assume-se que não há problema. A democracia, nesta leitura, só estaria ameaçada quando já estivesse danificada.
A experiência europeia recente sugere precisamente o contrário. As democracias não se degradam por excesso de vigilância, mas por confiança prematura. Não caem porque alguém usou palavras demasiado fortes, mas porque demasiadas pessoas acharam que “não será assim tão grave”. O iliberalismo não se impõe por ruptura, mas por acumulação: uma excepção aqui, uma relativização ali, um direito tornado discutível, um limite tratado como obstáculo.
Há, além disso, um equívoco recorrente no apelo à moderação: o de confundir pluralismo com neutralidade axiológica. Democracia não é apenas permitir que todas as propostas concorram em igualdade formal. Democracia é também afirmar que há princípios que não são negociáveis — não por dogma, mas porque sem eles o próprio jogo democrático perde sentido.
Quando tudo se reduz à eficácia eleitoral ou à “vontade do povo” entendida de forma absoluta, o resultado não é mais democracia. É menos liberalismo. E uma democracia sem liberalismo não é uma democracia mais autêntica; é uma democracia mais frágil.
O erro, portanto, não está em chamar fascista ao CHEGA — está em achar que a discussão termina aí. Enquanto se debate o rótulo, normaliza-se o conteúdo. Enquanto se critica o tom dos alertas, ignora-se a transformação silenciosa do horizonte do aceitável.
A vigilância democrática de hoje exige menos analogias históricas e mais precisão conceptual. Exige que se nomeie o iliberalismo quando ele se apresenta, mesmo que venha embrulhado em linguagem democrática. Exige, sobretudo, que se reconheça que o perigo já não é um regresso ao passado, mas a adaptação do autoritarismo ao presente.
A pergunta final não é se exageramos.
É se, em nome da tranquilidade, estamos dispostos a aceitar uma democracia com cada vez menos limites — e a chamar-lhe normalidade.